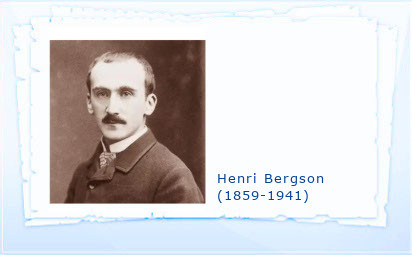CEM ANOS!
I - As Dificuldades de um Reino Velho…
A celebração de um século de existência desta revista suscita, com naturalidade, uma série de memórias das fases críticas por que passou, ainda parte relevante das recordações de muitos dos seus colaboradores e leitores.
Num país em que a imprensa tem frequentemente uma vida efémera, esta longevidade pode ser explicada como resultado das profundas e intensas motivações orientadas para um ideal de alargamento de saberes e da compreensão, em proveito de uma iluminação comum e numa busca continuamente participada e por todos acarinhada.
Importa, por isso, registar o eco de algumas dessas memórias longínquas e das tensões que as envolveram e prolongaram no ambiente social e cultural dos últimos cem anos.
Não obstante as ocorrências deste longo período parecerem um tema remoto e já indiferente às preocupações dos actuais leitores, a sua recordação irá, quanto mais não seja, ajudar a conhecer e compreender a origem de muitas dificuldades, bem como a verdadeira complexidade do ambiente que influenciou toda a actividade editorial nas primeiras décadas do século passado.
No final do século XIX assistiu-se a uma intensificação do movimento jornalístico sem antecedentes, que estabeleceu uma nova relação entre os jornais e os leitores. Era um jornalismo essencialmente político que - talvez devido à gravidade dos problemas do momento - facilmente se identificava com a preferência das multidões(1).
É significativo o número de publicações especializadas - médicas, culturais, feministas - e de jornais regionais e locais. Os textos evidenciam uma generalizada vulgaridade de conteúdos. Sujeitos às emoções do momento, e com recurso à violência polémica e política e ao pôr-em-causa ético, estavam frequentemente armados de argumentos ad hominem.
Esta forma rudimentar de desacreditar ideias, agredindo, na pessoa do adversário, teorias ou posições consideradas inadequadas ou erradas, terá contribuído para que as autoridades considerassem as malhas da lei demasiado largas para o que foi visto como abuso da liberdade de Imprensa.
(…)
Raramente o nosso país esteve livre desta velha fórmula de coacção da expressão e do pensamento. Os primeiros relatos de âmbito censório datam já do remoto reinado de D. Afonso IV (1325-1357) e são referenciados relativamente a franciscanos (Tomás Escoto) e beneditinos.
O segundo modelo de censura tem início em 1576 e consagra a obrigatoriedade do regime tríplice. Inclui três entidades censoras às quais deviam ser apresentados, separadamente, os pedidos para imprimir e “correr” (distribuir e vender) as publicações: o Desembargo do Paço, o Santo Ofício e o Ordinário da Diocese (episcopal)(2).
(…)
Esta prática só foi interrompida pelo Marquês de Pombal, mas é logo retomada no final do século XVIII, para durar até à Revolução Liberal de 1820.
Num país marcado por uma profunda impregnação de tradições religiosas, a coabitação da religião oficial com a liberdade de a não seguir estava naturalmente dificultada e era, como não podia deixar de ser, propícia a actos susceptíveis de censura social suficientemente atractivos para os leitores dos jornais da época.
(…)
Com a Revolução de 1820 retoma-se a discussão sobre o direito natural da “comunicação dos pensamentos e opiniões”, embora a intervenção dos poderes públicos não tenha sido substancialmente alterada. Ainda assim, do volume de material jornalístico para análise que afluía “em confusão e desalinho”, o aparelho censório deixou escapar alguns textos, dando a ideia de a Imprensa beneficiar de mais liberdade nesta época [Nota: J. Tengarrinha, id., pp 30-32].
Houve, naturalmente, figuras que se notabilizaram neste período ao pugnarem por uma opinião pública livre, ilustrada e crítica. Recorde-se a reacção de Alexandre Herculano às críticas ao primeiro volume da sua História de Portugal, críticas essas provenientes da parte dos que pretendiam que o milagre de Ourique - o aparecimento de Cristo a D. Afonso Henriques na véspera da Batalha de Ourique — não fosse remetido para o campo das lendas hagiográficas, mas antes reconhecido como verdade histórica, e até como um acontecimento basilar da tradição nacional(3).
Neste volume, o “pai” da nossa historiografia dá-nos uma perspectiva inédita sobre a origem da nação em contraste com o discurso repetitivo de uma herança ideológica e afectiva dotado de um certo idealismo fantástico e possuído de uma forte componente subreligiosa (fé, fervor, sentimento do sagrado), submágica e submística. É, deste modo, denunciada a linguagem de quem não percebia que, por já ter perdido o sentido da verdade, se tornava uma permanente fonte dos erros, ilusões, delírios e atrasos que teimava em considerar verdades eternas.
No rescaldo dos problemas associados àquele primeiro volume, e ainda magoado pelas pressões do contexto sociopolítico, Herculano recorda, logo no início da História da Origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal, alguns dos erros antigos do clero, assentes num sistema de crenças cristalizadas em doutrina e orações formais. [Nota. AH, História da Origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal, Tomo I, Livraria Bertrand, s/d., p. 8 ss, s/d.]
(…)
É nesta época que um crescente sentimento de decadência e de verdadeiro naufrágio da sociedade nacional, associado às suas condições malsãs, tanto do ponto de vista social como do económico e cultural, rapidamente se generaliza e atinge o ponto limite quando um acontecimento de carácter acaba por espoletar um debate sobre o grau de degradação cultural da sociedade portuguesa. A polémica literária chamada do “Bom-Senso e Bom-Gosto”, em que participaram, entre outros, António Feliciano de Castilho, inspira algumas personagens da vida cultural nacional, que viam com apreensão a falta de mobilização da sociedade para uma mudança social e cultural, enriquecida com a consciência de modernidade. E resolveram denunciar publicamente esse atraso com um programa de intervenções denominado “Conferências do Casino”, com início em Maio-Junho de 1871, em Lisboa, no Casino Lisbonense, que ficava no actual Largo Rafael Bordalo Pinheiro.
(…)
Mas foi um êxito breve. O Poder não estava preparado para estes diálogos. A medida mais fácil para lhes pôr termo foi uma portaria, datada de 26 de Junho de 1871, que mandou fechar a sala das conferências um mês e quatro dias depois de elas se iniciarem, por ali se “exporem e sustentarem doutrinas e proposições que atacavam a religião e as instituições do Estado”.
Para esta geração de intelectuais que iriam integrar o grupo a que chamaram “Vencidos da Vida”, impunha-se um debate sobre a manifesta decadência do País. Com a sua iniciativa propunham-se esclarecer a opinião pública acerca das grandes questões da Filosofia e da Ciência modernas e, naturalmente, estudar as condições da transformação política, económica e religiosa da sociedade portuguesa.
Na base neste grito de alarme e advertência encontra-se uma referência necessária à causa evidente de tal estado de coisas: os defeitos e insuficiências da organização social, associados a um Poder que se revela, cada vez mais, inoperante, falho de realizações e, incapaz de justificar as razões que tem, sustenta firmemente um vazio de objectivos e intenções.
(…)
Este generalizado sentimento de decadência e de verdadeiro naufrágio, tanto do ponto de vista social como do económico e cultural, acabaria por atingir uma expressão significativa na reacção popular ao célebre Ultimato inglês de 1890. Considerada uma afronta dos britânicos, a exigência de Londres a Portugal para que abandonasse os territórios entre Angola e Moçambique serviu para levar Guerra Junqueiro a escrever Finis Patrie e inspirou Henrique Lopes de Mendonça a compor um hino antibritânico intitulado A Portuguesa, parte do qual viria a ser declarado hino nacional em 1911, após a implantação da República; começava com os versos: “Saudai o Sol que desponta/sobre um ridente porvir”.
(…)
No meio desta confusão, a opinião pública, como expressão de uma vasta relação de pontos e vista, pouca influência tinha na legislação, na execução das leis e nas decisões sobre quem devia manter o poder. Além disso, se bem que houvesse uma vasta imprensa diária nas principais cidades (sobretudo na capital), e ainda que essa imprensa reflectisse uma variada gama de opiniões, estas estavam geralmente divorciadas da acção do Governo (4).
Talvez não seja errado, por isso, considerar-se que o objectivo dos governos desta época, e no contexto das rivalidades políticas e da luta pelo poder, acabava por ser, sobretudo, o de encaminhar a população por caminhos da domesticação, alienação e manipulação das consciências, levando à prática um princípio que só depois de 1968 seria publicamente debatido: “a política é a arte de impedir as pessoas de se imiscuírem naquelas coisas que lhes dizem respeito”.
Apesar de este período se apresentar às novas gerações como um tema remoto e sem interesse, a verdade é que alguns fogos das controvérsias antigas permaneceram activos durante as primeiras décadas do século XX. Inclusive, são relevantes para a compreensão das dificuldades que se apresentaram nos primeiros anos de vida da nossa revista: ainda que olhados à distância, como mera problemática superficial, mostram-nos, na realidade, dificuldades que exigiram permanentemente perspicácia, diplomacia, determinação e prudência, como veremos no próximo número.
A questão filosófica que agora se nos apresenta é a conveniência de identificar os sinais de mudança e sua pertinência e saber lidar com ela de forma equilibrada. Todas as situações da vida estão em movimento constante, razão pela qual procuramos incessantemente compreender as mudanças e interagir com elas de forma construtiva. Elas acontecem quer quando as desejamos, quer quando não as queremos, ao contrário do seu complemento - a permanência, o que não muda.
Se no mundo físico temos necessidade de permanência como pano de fundo para as mudanças necessárias, também precisamos de mudanças regulares e cíclicas, como as da Natureza: “Na vida que evolui, tal como na vida comercial, não há nada que se pareça com a simples ‘conservação do património’. Progredir ou regredir, é a lei”(5) .
(…)
Embora a sua compreensão não seja suficiente para alterar a mudança, ela exerce uma influência decisiva sobre a forma como reagimos e encontramos as soluções mais adequadas. Melhoramos assim as nossas perspectivas, não apenas as actuais, como também, as futuras.
Demorámo-nos um pouco no registo destas memórias com a intenção de iluminar o ambiente, já obscurecido, que foi um complicado nó problemático para quantos trabalharam na Fraternidade Rosacruz de Portugal ,e na imprensa em geral, até meados do século passado.
O que fica dito levaria, certamente, António Ribeiro Sanches (1699-1783) a repetir o seu inesquecível e magoado lamento sobre as Dificuldades que tem um reino velho para emendar-se .
F. M. C.
(1) José Tengarrinha, Da Liberdade Mitificada à Liberdade Subvertida, Ed. Colibri, 1993, p. 34.
(2) Francisco Rui Cádima; Imprensa, Poder e Censura. Elementos para a História das Práticas Censórias em Portugal; https://research.unl.pt/ws/portalfiles/portal/3384521/mj22_cdima_1.pdf (6/5/25).
(3) Ana Isabel Buescu, O Milagre de Ourique e a História de Portugal de Alexandre Herculano; Instituto Nacional de Investigação Científica; 1987, passim.
(4) Douglas L. Wheeler, História Política de Portugal, 1910-1926; Publicações Europa-América, 2010, p.204.
(5) Editorial Inova, Porto, s/d.